
Se você, como eu, cresceu nos anos 1990, deve lembrar das comemorações do 13 de Maio na escola. A Princesa Isabel brilhava sozinha nessa história: nos livros didáticos, nas redações, nos cartazes coloridos. Tudo reforçava a ideia de que ela era a responsável direta — e praticamente única — pela libertação dos negros escravizados. Eu não aprendi, quando criança, sobre Luiz Gama, advogado e intelectual negro, que atuou decisivamente para libertar centenas de pessoas; nem sobre José do Patrocínio, jornalista e liderança negra do movimento abolicionista; nem sobre os irmãos André e Antônio Rebouças, engenheiros e pensadores negros cuja atuação política foi central naquele período. Muito menos sobre a resistência negra nos quilombos e nas revoltas que enfrentaram o sistema escravista.
No pós-Abolição, essa narrativa centrada na futura imperatriz não surgiu por acaso. A princesa foi transformada em símbolo de bondade e redenção nacional. Recebeu do Papa Leão XIII a condecoração Rosa de Ouro, gesto que a aproximava de uma imagem quase santa; teve seu rosto estampado na moeda comemorativa no primeiro aniversário da Abolição; e foi celebrada como a mulher branca que “deu” a liberdade. Essa construção ajudou a reforçar a ideia de um Brasil cordial e harmonioso, ao mesmo tempo em que deixava de lado as lutas negras — dos abolicionistas aos quilombos — e apagava o fato de que a liberdade foi resultado de um processo coletivo de resistência, organização e enfrentamento ao sistema escravista.
Notícias Relacionadas

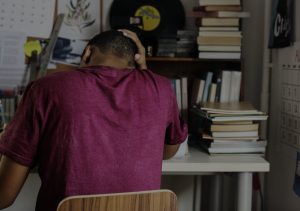

A partir da década de 1970, em plena ditadura militar, diferentes entidades do movimento negro se articularam e rearticularam politicamente para enfrentar o silenciamento das histórias de resistência negra que o Estado insistia em ignorar. E é importante dizer: esse silenciamento não foi um acidente — foi um projeto político muito bem-sucedido ao longo do século XX. Esses grupos denunciaram o mito da democracia racial e chamaram atenção para a situação da população negra no pós-Abolição — e para como seus efeitos seguiam (e seguem) presentes no cotidiano brasileiro. Ao fazer isso, trouxeram para o debate público algo que sempre esteve vivo nas comunidades negras, mas que raramente aparecia nos livros ou nas versões oficiais da história: o apagamento das lutas e das resistências negras ao longo dos séculos.
É dentro desse movimento maior que o 20 de Novembro começa a ganhar força. Em 1971, o Grupo Palmares, em Porto Alegre, propôs a data como um marco simbólico da resistência negra, conectando-a à memória de Zumbi, como lembra Lélia Gonzalez no livro Lugar de Negro. Em 1978, o Movimento Negro Unificado dá um passo fundamental nesse processo ao lançar o manifesto “A Zumbi. 20 de novembro — Dia Nacional da Consciência Negra”, documento que afirmava explicitamente a importância da data como marco político e histórico. A partir dali, o que antes era uma iniciativa localizada ganha projeção nacional e se transforma em símbolo coletivo de enfrentamento ao racismo e de afirmação da consciência negra no Brasil.
O 20 de Novembro carrega a força de muitas nações africanas e de histórias que nunca aceitaram o silêncio. Ele expõe o que esconderam de nós quando éramos crianças: a liberdade foi luta, não concessão. E lembra, como na canção de Jorge Ben Jor, que há momentos em que a memória chega com a força de Zumbi — senhor das demandas, capaz de desafiar a ordem. É isso que a data afirma hoje: a história é campo de disputa. E quando a memória negra se movimenta, ela não apenas revisa o passado — ela redefine o futuro.
Notícias Recentes




